Polacas - Baile de Máscaras
Na era do texto na internet, parece que a autoria está se perdendo numa ética duvidosa. O livro [Baile de máscaras: mulheres judias e prostituição. As polacas e suas associações de ajuda mútua] é sobre o mundo privado de mulheres tidas como públicas. Minha dissertação de mestrado em História (UFF), editado pela Imago (1996). Narrativas muito semelhantes à minha pesquisa, usando até as imagens por mim recolhidas, andam sendo editadas. O original, garanto, é muito melhor.
domingo, 15 de dezembro de 2024
quarta-feira, 3 de julho de 2024
As polacas no PodCast "E eu com isso?”, do Instituto Brasil-Israel.
"No último dia 27 de julho, o Instituto Brasil-Israel, em parceria com a comunidade Shalom e a Casa do Povo, fez uma visita guiada ao cemitério israelita de Cubatão para conhecer a história das polacas, mulheres judias do leste europeu que vieram ao Brasil em busca de trabalho e que aqui foram convertidas em prostitutas. Essas, por não poderem ser enterradas no mesmo cemitério que os demais judeus, fundaram o Cemitério Israelita de Cubatão (em 1928), que, desde 2010, se tornou um patrimônio histórico do Brasil.
Mas quem eram essas mulheres? Como viviam, e por que tantas delas foram enterradas no cemitério de Cubatão? No "E eu com isso?” desta semana, conversamos com Beatriz Kushnir, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas. Autora, entre outros, de Baile de máscaras: mulheres judias e prostituição. As polacas e suas associações de ajuda mútua".
Para ouvir o episódio #277 do Podcast "E eu com isso?” , click na imagem abaixo.
quarta-feira, 27 de dezembro de 2023
Entrevista TV Mosaico
Olá,
Faço o registro de uma entrevista que recentemente concedi à TV Mosaico e foi ao ar no dia 19/12/2023. Espero que gostem. Para acessar, basta clicar na imagem abaixo.
quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Fórum das Entidades de Patrimônio solicita esclarecimento
*Pedido de esclarecimentos sobre o Cemitério Israelita de Inhaúma*
terça-feira, 14 de novembro de 2023
Judaísmo Ao Centro
Car@s;
Segue um vídeo publicado no canal “Judaísmo Ao Centro”, do YouTube. Click na foto se quiser assistir.
quinta-feira, 2 de novembro de 2023
Mais um alerta: o abandono do Cemitério Israelita de Inhaúma
Leia a matéria do G1 clicando na foto:
sábado, 23 de setembro de 2023
Uma década e o abandono ao Cemitério Israelita de Inhaúma voltou!
Enfim, a Chevra Kadish de São Paulo lidou com isto muito melhor. Uma pena não termos aprendido nada com eles. Continuo lutando pelo Cemitério Israelita de Inhauma sempre!
Peço a atenção da Fierj Federação Israelita, Confederação Israelita do Brasil - e da CONIB a questão!
terça-feira, 18 de julho de 2023
terça-feira, 25 de abril de 2023
quinta-feira, 9 de março de 2023
Em meio à prostituição: rede de solidariedade, proteção e identidade das judias ‘polacas’
Matéria no link: Click aqui
Mencius Melo – Da Revista Cenarium
MANAUS – Proteger, ajudar e preservar a identidade judaica de mulheres “polacas” (como prostitutas judias eram denominadas no Brasil) que vinham do leste europeu para trabalhar no mercado da prostituição, no Brasil, é o tema em “Baile de Máscaras – Mulheres Judias e Prostituição”, (Imago Editora, 260 pág.) da historiadora Beatriz Kushnir. No Dia Internacional da Mulher, relembrar histórias ou mesmo descobrir um recorte de força feminina, para além da miséria humana das relações de exploração na sociedade moderna, vale enquanto contribuição e legado.

Em entrevista à REVISTA CENARIUM, Beatriz Kushnir falou sobre o contexto histórico de sua pesquisa, preconceito e resistência diante de adversidades. “Meu trabalho, fruto de minha dissertação de mestrado em História, na Universidade Federal Fluminense (UFF), não é sobre a exploração sexual das mulheres. O estudo busca compreender como um grupo de mulheres e homens imigrantes, fugindo da miséria e da perseguição antissemita, construiu para si, sociedades de ajuda mútua que os auxiliassem a viver as dificuldades em terras distantes.
Leia também: Obra revela apagamento feminino na cultura brasileira
De acordo com Beatriz, tratava-se da realidade de um século passado, com contextos econômicos e sociais diferentes e adversos na Europa pré, primeira, durante e pós, segundas grandes guerras. “Eram homens e mulheres oriundos do leste europeu e que se dirigiram tanto ao Ocidente como ao Oriente. O título do trabalho, baile de máscaras, sintetiza a minha abordagem: num baile como esse, o importante é o seu final, quando identidades são reveladas. Eu quis compreender o universo privado de mulheres tidas como públicas”, detalhou.

Falência
Kushnir faz uma crítica sobre inclusão e mercado de trabalho. “A prostituição é a exposição da falência de inclusão de uma massa de trabalhadores. Ou seja, ninguém opta por estar no mercado da prostituição. Isto acontece porque as pessoas que ali estão não possuem, infelizmente, formação profissional e educacional regular que lhes permitisse estarem inseridas no mundo do trabalho em outra posição. Há, claro, toda uma literatura que, se baseada no filme ‘A Belle de jour’, tenta glamourizar este universo”, observou.
No recorte histórico abordado por Beatriz Kushnir, o antissemitismo (ódio aos judeus) tem papel preponderante. “É importante compreender que os homens e mulheres judeus que estavam envolvidos com a prostituição, desde o leste europeu, eram alijados do mundo fabril e educacional. Já que não era permitido, aos judeus, frequentar universidade, seus estudos eram comunitários. Eram famílias numerosas vivendo em pequenas aldeias que estavam economicamente em crise. Além disto, eram frequentes as violências a que eram submetidos por serem judeus”, salientou.
Com tamanhas barreiras, restou o caminho da prostituição como meio de sobrevivência.”Neste sentido, a prostituição foi um caminho possível para sair daquele universo de pobreza. Precisamos lembrar também que mulheres e homens se tornaram donos de bordel. Portanto, é importante que haja uma desmistificação dessa história, colocando em oposição homens e mulheres. Muitas delas sabiam, exatamente, para onde estavam vindo e o que fariam. Muitas delas já eram prostitutas no leste europeu”, afirmou.

Bordéis
“Há um estudo dos anos de 1980 demonstrando que a maioria dos bordéis no leste europeu pertencia a judeus. O interessante desse assunto foi o viés que abordei. É demonstrar como estes homens e mulheres, para onde foram, no mundo inteiro, desejaram se manterem judeus. Para tal, construíram associações de ajuda mútua, cemitérios e sinagogas próprios. Assim, continuaram judeus como uma forma de diferenciar o mundo do trabalho do universo privado”, destacou a pesquisadora.
Amazônia
Questionada se as “polacas” chegaram à Amazônia, Beatriz respondeu: “Investiguei o universo das polacas no eixo Rio/São Paulo. Mais tarde, soube de mulheres judias na prostituição, em Manaus, como comprovam algumas lápides encontradas. Trabalhei com a documentação interna das associações delas no eixo Rio/São Paulo, e uma última ata da associação de Santos. Ali não vi qualquer referência ao universo amazônico. Então, o que posso concluir é que das mulheres e homens que circunscreveram a minha pesquisa não houve qualquer registro de suas transferências para a Amazônia”, revelou.
O que não quer dizer que elas não estiveram em terras nortistas. “Não conheço qualquer trabalho que tenha localizado uma associação de ajuda mútua de polacas, em Manaus, às quais eu encontrei no eixo Rio/São Paulo. O que me leva a concluir que era em número diminuto. Neste sentido, e de forma muito empírica, posso concluir, aqui, que as mulheres judias que chegaram à Amazônia para trabalhar como prostitutas, o fizeram de maneira individual. Certamente, por perceber que o universo de exploração da Amazônia e da borracha permitiria um fluxo de capital que, talvez, não encontrasse no sul e sudeste do País”, comentou.
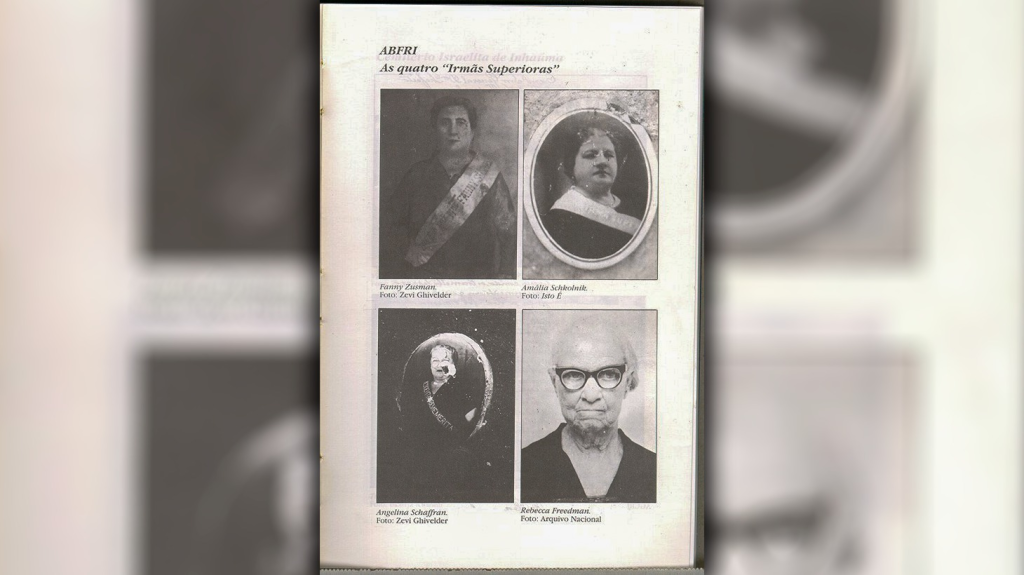
Atualidade
Ao final da entrevista, Beatriz Kushnir ponderou sobre a sociedade brasileira. “Ainda vivemos numa sociedade em que homens e mulheres, que trabalham numa mesma função, recebem remunerações diferenciadas. A cultura autoritária e reacionária da sociedade brasileira apenas veio escancaradamente mais à tona com o golpe de 2016. A luta por uma sociedade mais igualitária está só começando. Entretanto, é preciso cultivar entre as mulheres a sororidade. Muitas vezes, mulheres discriminam mulheres no ambiente de trabalho e se aliam a chefes homens no intuito de uma promoção individual”, lamentou.
Kushnir fala das urgências sociais brasileiras. “Precisamos iniciar, para ontem, a tarefa de reeducar os homens a nossa volta, sejam eles filhos, esposos, irmãos, colegas de trabalho, etc. O importante é perceber que não podemos dividir a sociedade numa oposição entre homens e mulheres. Ninguém ganha com este acirramento. Acredito, sim, que há muito que se comemorar no dia 8 de março. Devemos celebrar as que vieram antes de nós e, com suas lutas, permitiram que na dor pudéssemos ter uma data para refletir sobre os lugares das mulheres na sociedade contemporânea”, finalizou.
Resumo
Publicado no Brasil sobre a prostituição judaica. Conhecidas como polacas, essas mulheres deixaram uma marca no folclore urbano brasileiro, embora o total de prostitutas e cáftens judeus que aqui chegaram, entre 1867 e o final da década de 30, não passe de 2 mil. Mais importante do que o número, é a rejeição que este grupo sofreu por parte da comunidade judaica mais ampla, intransigente em seus valores morais. Num momento histórico em que os imigrantes judeus lutavam contra o preconceito da sociedade como um todo, era fundamental deixar claro que os envolvidos com a prostituição, eram marginais da comunidade.

Por isso, não se permitia que participassem de instituições como sinagogas, clubes ou sociedades beneficentes. Nem, sequer, se permitia que fossem sepultados nos cemitérios dos outros judeus. As polacas e seus cáftens, assim, criaram, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santos, sociedades de beneficência e ajuda mútua independentes, organizadas, exatamente, nos mesmos moldes das que sempre foram características das comunidades judaicas em todo o mundo.
quarta-feira, 8 de março de 2023
Polacas no PodCast Enredo Cultural
| Luis Carlos Magalhães e Beatriz Kushnir |
quinta-feira, 17 de novembro de 2022
quinta-feira, 26 de maio de 2022
Resenha do livro de : Mir Yarfitz, "Impure Migration. Jews and Sex work in Golden Age Argentina". Nova Jersey, Rutgers University Press, 2019.
Ainda cabe o termo “impuro” para estes imigrantes?
Beatriz Kushnir[1]
Este livro é fruto de uma incursão acadêmica e se debruça sobre o período de 1890 até 1930, onde a prostituição era uma atividade legal na Argentina, e Buenos Aires era um centro de recepção de imigrantes que atuavam nesta área. O mercado da prostituição deslocava mulheres, inclusive as judias – enganadas ou não – de cidades como Odessa, Lodz e Varsóvia para Xangai, Nova York, Buenos Aires, Montevidéu, Córdoba, Santiago, Rio de Janeiro, Santos ou São Paulo, por uma rota de tortuosos. Essas mulheres se instalam no baixo meretrício, sendo alocadas no Mangue e na Lapa, no Rio de Janeiro; no Bom Retiro, em São Paulo, em La Boca, em Buenos Aires.
Mir Yarfitz inicia expondo a (controversa) denuncia da prostituta Raquel Liberman ao delegado Julio Alsograray, em 1928. Ela, uma moça judia que ao acusar, espontaneamente ou não, os membros da Zwi Migdal, permitiu ao delegado associar a prostituição ao tráfico de mulheres, e dizimar a atuação do grupo naquele país. Envoltas no antissemitismo que permeava a Argentina, as palavras de Liberman são utilizadas para desbaratar, ao meu juízo, um associativismo comunitário religioso dos membros judeus vinculados ao mercado da prostituição e construir provas que os criminalizava.
Yarfitz incorpora a ideia da delação e a analisa pelo viés do delito, como muitos outros estudos. O autor não questiona o dado: a delação. Não há para ele a possibilidade de coerção da diletante. A minha leitura do presente trabalho se deu por esse olhar: os limites de não se inquirir e duvidar das fontes primárias, não as colocando em perspectiva.
O livro, em cinco tópicos, se inicia no capítulo 1, quando o autor se centra nas “(...) narrativas da escravidão branca que circularam na imprensa e publicações populares, por meio de organizações nacionais e transnacionais durante meio século. Essas histórias serviram a fins sensacionalistas e persuasivos, refratando as ansiedades raciais e sexuais em uma era de massivas mudanças populares” (p.17) (Todas as traduções do inglês para o português foram feitas pela autora da resenha).
No capítulo 2, discute “(...) a figura do judeu neste mapa discursivo e experimental. Os judeus Askenazim, cuja categorização racial era escorregadia, [formulação que não me ficou clara], tornaram-se mais fortemente associados ao tráfico sexual do que os membros de outros grupos étnicos. A ameaça moral supostamente representada por alguns judeus tornou-se uma justificativa para as limitações da mobilidade migratória dos judeus”. Explicitando uma polarização dentro deste grupo étnico. Para o autor, “(...) paradoxalmente, o trabalho dos reformadores morais judeus para conter o tráfico atraiu ainda mais atenção à presença judaica no campo” (p.18), o que para Yarfitz parece um grave problema. O autor está mais preocupado com as celeumas que os judeus envoltos com a prostituição imporiam ao restante da comunidade. Esta preocupação foi sempre do lado oficial, onde o não contato permitiria se salvaguardarem.
No capítulo seguinte, há certamente, a hipótese mais controversa do trabalho. O autor se debruça em explorar um aspecto particular da narrativa do tráfico de escravas brancas, “(...) o shtile krupe, uma cerimônia de casamento religioso judaico sem um componente civil, que muitas vezes foi denunciada como uma testemunha-chave de recrutamento para o tráfico” (p.18).
No quarto capítulo, investiga a Sociedade Varsóvia, nome anterior da Zwi Migdal. Para o autor, “(...) embora a organização fosse frequentemente criticada como uma falsa instituição de caridade com sinagoga fictícia, sua estrutura de organização complexa espelhava a de outras associações de imigrantes voluntários e seus membros engajados em exibições públicas e privadas da identidade religiosa judaica”. Para Yarfitz, o ato de viver a religiosidade aparece como uma teatralidade ao exterior e não a possibilidade de inclusão e solidariedade frente ao agressivo e desconhecido novo país.
Reafirmando a sua perspectiva, o autor sentencia que “(...) os membros da sociedade agiam como outros empresários imigrantes, protegendo seus interesses econômicos e religiosos, alegando respeitabilidade e se identificando estrategicamente como argentinos”. Yarfitz sublinha, ainda que, ao meu juízo com um tom pejorativo, um igualitarismo de intenções entre mulheres e homens vinculados ao comércio do sexo ao definir que “(...) a gama de atividades comunitárias perpetuadas pela Sociedade também mina a dicotomia vítima / explorador, pois as mulheres acessavam certas formas de poder e segurança” (p. 18 e 19).
Pondo o tema em outra perspectiva, optei por investigar não as reflexões sobre estas Sociedades, mas sim, suas estruturas internas, o mundo privado de mulheres tidas como públicas. Encontrei narrativas de seres humanos e suas vivências dos percalços e das alegrias do dia-a-dia. Para onde emigraram, fundaram sociedades que mimetizavam o mundo judaico do qual estavam alijadas, tal qual a Zwi Migdal. Mulheres do seu tempo, quando não tinham minian – quórum de dez homens judeus adultos para as obrigações religiosas –, contratavam. Igualmente o faziam para terem um hazan/rabino que conduzisse o serviço religioso em suas sinagogas e cemitérios.[2]
As conjecturas de Yarfitz foram realizadas, em sua maioria, sem a consulta à documentação da Zwi Migdal, até porque, pelo que se sabe, a documentação da Associação foi pelos ares na explosão da AMIA (Associação Mutual Israelita-Argentina), em Buenos Aires, em 18 de julho de 1994. Mas também não houve uma preocupação do autor em demonstrar que existia outras possibilidades comprovadas documentalmente, de se inquirir o tema.
Ao circunscrever a visibilidade da prostituição, Yarfitz expõe em seu quinto capítulo, um mapa da evolução do trabalho sexual organizado pelos judeus em Buenos Aires, entre 1890 a 1930, juntamente com o aumento do boicote contra ele, a partir da denúncia de Liberman. “(...) Esses mapas destacam a escala, densidade e visibilidade da prostituição no coração de uma comunidade nascente e insegura. A visibilidade discursiva da prostituição judaica não era simplesmente um resultado do exagero antissemita ou das ansiedades judaicas dominantes: a ostentação "impura" estava entre os membros mais poderosos e visíveis de uma nova comunidade com poucas opções de mobilidade econômica ascendente”. Preocupado com o lado oficial da comunidade judaica, o dos puros, o autor demonstra a força com que os impuros ficaram marcados no imaginário social e, segundo ele, mancharam o lado oficial. Assim, “(...) embora muitos judeus tenham se mudado do centro da cidade, o coração do submundo judaico permaneceu no bairro central do centro, que continua até hoje associado ao seu passado judaico” (p. 19).
Muitos judeus faziam parte dessa atividade. Ou como prostitutas, ou como cafetões e cafetinas[3]. O autor sublinha como a “ostentação ‘impura’” aplacava as tentativas do “outro” lado em ascender. Ler no contemporâneo uma reflexão que ainda demarca essa polarização, me é muito difícil. A violência antissemita e a pobreza impuseram a milhares de judeus deixarem o Leste Europeu para “fazer a América”. A prostituição não era uma atividade desconhecida para homens e mulheres judeus no Leste Europeu. Ou porque participavam dela, ou porque a imprensa judaica divulgava o “tráfico de escravas brancas”, buscando alertar as moças judias deste (nefasto) fato.[4] O universo em questão remete à pobreza das famílias numerosas e as moças sem dote que jamais fariam um “bom casamento”. E, aqui, lembro o debate que o autor trava em relação aos limites e possibilidades de se apreender a mobilidade destas mulheres via esse “passaporte” de status.
Durante a leitura de Impure migration me perguntava se outros leitores refletiriam sobre o presente e o futuro possíveis para os judeus e judias envolvidos no comércio da prostituição. Há diversas narrativas que expõem tentativas salvacionistas da comunidade judaica oficial para com as moças que atuariam como prostitutas. Relatos de que membros da comunidade judaica se colocavam nos portos para avisá-las que tais promessas de casamento poderiam ser falsas e que seus destinos seriam, possivelmente, os prostíbulos. Havia a crença de que elas nunca sabiam seu real destino.
É fundamental pontuar, que a vida difícil nas comunidades judaicas e a ausência de mecanismos das instituições judaicas para oferecer uma alternativa melhor, parecem não ter conseguido frear o fluxo de mulheres judias que se dirigiram para a prostituição. Alertar não era o suficiente para acabar com o problema. Talvez seja este o ponto, a meu ver, que torna o tema um tabu: a exposição da fragilidade comunitária, onde não se poderia garantir um bom futuro a todos. Aos que não conseguiam, a punição era impor-lhes a pecha da impureza.
O tema do “tráfico de brancas” até meados dos anos de 1970 recebeu análises que o criminalizaram. Não se queria entender quem eram aquelas pessoas. Desejava-se evitar ondas antissemitas no novo país de acolhida e para tal, as comunidades judaicas se polarizaram e a ala “oficial” dividia o universo comunitário entre puros e impuros, em degenerados e pessoas de bem. A intenção dos “de bem” era ficar longe de problemas com a polícia. Os tidos pejorativamente como participantes do termo trágico do “tráfico de escravas brancas” deveriam ser culpabilizados, julgados e condenados ao ostracismo comunitário.
Entendo que retornar à temática das polacas é um ato de exorcizar demônios. Não que elas o sejam, mas é como alguns de nós as encaramos. Na conclusão de Yarfitz, que traduzo de forma livre, o autor expõe que “(...) a moralidade se transformou num campo de batalha entre os tmeim e seus oponentes, enquanto os rufiões reivindicavam respeitabilidade através da sua sociedade voluntária, as prostitutas reivindicavam vitimização quando ela servia aos seus interesses, e instituições locais e internacionais, da Ezres Noshim até a Liga das Nações, usavam reivindicações morais para moldar casamento e imigração. As trabalhadoras sexuais imigrantes empregavam o casamento como estratégia migratória, estrutura de negócios, e envolvimento romântico”. Para o autor, o “casamento como negócio” podia servir a esses três fins. “(...) Mesmo décadas depois, quando os judeus já não desempenhavam um papel significativo no submundo argentino, judeus “respeitáveis” continuaram a transformar os tmeim em bodes expiatórios, esperando com isso proteger o futuro judaico. A marca dessa história permaneceu na estrutura centralizada das instituições judaicas, na postura defensiva da memória histórica coletiva, e nos contornos das expressões argentinas de antissemitismo” (grifos meus) (p.140).
O processo histórico é maior do que circunscrevê-lo ao passado e presente argentinos. A dificuldade do autor em enxergar isto está na sua crítica ao clássico e denso estudo de Edward Bristow (1982). O autor abre o capítulo 3 inquirindo a temática dos casamentos arranjados – prática milenar das comunidades étnicas para garantir a continuidade dos matrimônios entre iguais. Yarfitz pondera que Bristow não cita nenhuma evidência documental de que os fenômenos da prostituição e do casamento não regulamentado estão causalmente ligados (p. 57). Contudo, Bristow, a meu juízo, realiza algo mais importante: expõe o vínculo entre homens e mulheres deste grupo étnico desempenhando atividades de prostituição e cafetinagem que já ocorria na Europa Oriental, onde a maior parte dos bordéis era controlada por eles. O censo de 1889 listou no Império Russo 289 licenças para prostíbulos - destes, 203, ou 70%, pertenciam a judeus. No mesmo ano, das 36 autorizações para o exercício da prostituição na cidade de Kherson, um porto do Mar Negro, 30 pertenciam a caftinas judias.[5]
Se as ponderações entre meados dos séculos 19 a meados do 20 envolviam a questão do “tráfico de brancas” à ideia da impureza, do desvio de conduta, quatro décadas de estudos publicados mundo afora, onde me incluo, me fez acreditar que teríamos vencido tamanho preconceito.
Ao ler o trabalho de Mir Yarfitz, uma pergunta me era recorrente: será que alguns historiadores compreendem as forças expressas e que compõem a formulação de um documento? O documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. Um documento contém apontamentos, intenções. Não necessariamente verdades, já que trabalhamos com discursos, não é mesmo? Documentos são expressões de correntes (em disputa) sobre um determinado fato ou evento.
A partir da ideia de que o trabalho do historiador é o de se debruçar no acervo localizado para comprovar ou não a sua hipótese, cabe a esses cientistas sociais não incorrer no engano de tomar a fonte analisada como a Verdade e sim, como uma expressão de verossimilhança. O corpus documental localizado não é o suporte para comprovar uma hipótese, mas para colocá-la em questão, em dúvida. Encontrar um acervo de consulta para uma determinada pesquisa é, igualmente, um momento de reflexão sobre como esse se formou e o quanto responde às indagações de uma análise.
A validação ou não de uma hipótese vem do entendimento das forças que construíram os documentos pesquisados. Sem isto, não há historiografia. Há análises positivistas que apenas reproduzem, sem questionar, o que está inscrito nos documentos. Se feito isto, não cumpriremos o alerta do historiador Jean Starobinski, para a crítica interna e externa ao documento.[6]
No caso específico do “tráfico de escravas brancas” há na documentação dita como oficial, um claro discurso competente de preconceito e antissemitismo. A documentação oficial expressa os valores daquela sociedade e, no caso argentino, isto é latente.
Se as forças políticas de cada momento histórico influenciam a produção acadêmica, por que o título incorpora a ideia de impuro? Nada pode ser mais xerófago do que sublinhar a ideia de imigrantes degenerados. Aceitando como o lado oficial os designou os recondena ao crime.
Neste sentido, por vezes me pergunto como exorcizar o fantasma que esta trama impõe a muitos. Recorro a lembrança do dia 27 de fevereiro de 2000, quando o rabino americano Henry Sobel realizou uma reza para as polacas e seus maridos enterrados no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo/Brasil. Faço das palavras dele o meu desejo: “rezamos hoje 'El malê rachamim' em memória das mulheres sepultadas nesta área do cemitério. Que cada uma delas descanse em paz.”
[2] Beatriz Kushnir. Baile de máscaras: mulheres judias e prostituição. As polacas e suas associações de ajuda mútua. 2ª. ed., Rio de Janeiro, Imago, 2012.
[4] Edward Bristow. Prostitution and prejudice: the jewish fight against white slave, 1879-1939. Cambridge, Oxford University Press, 1982.
[5] Edward Bristow. Prostitution and prejudice: the jewish fight against white slave, 1879-1939. Cambridge, Oxford University Press, 1982.
sexta-feira, 1 de abril de 2022
A reza pelas polacas no Cemitério do Butantã
| Cemitério Israelita do Burantā, feve./2000 |
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022
E novamente, deu no Ancelmo Gois
Autora do livro “Baile de máscaras”, sobre os cerca de 2.000 imigrantes, prostitutas e cáftens judeus, que chegaram ao Brasil entre 1867 e o fim da década de 1930, a historiadora Beatriz Kushnir volta a denunciar a situação de abandono do Cemitério Israelita de Inhauma, onde eram enterradas as chamadas polacas.
"Esquecendo o seu preceito religioso de solidariedade, o Comunal abandonou o cemitério das polacas em 2020 alegando que ele foi tombado pela Prefeitura e, portanto, o Estado que se cuide", diz. E completa: "Pode isso?"
A Sociedade Cemitério Comunal Israelita do Rio de Janeiro administra o Cemitério Israelita do Caju e mais três campos santos ligados à comunidade judaica, que incluía o Cemitério onde eram enterradas as prostitutas.














